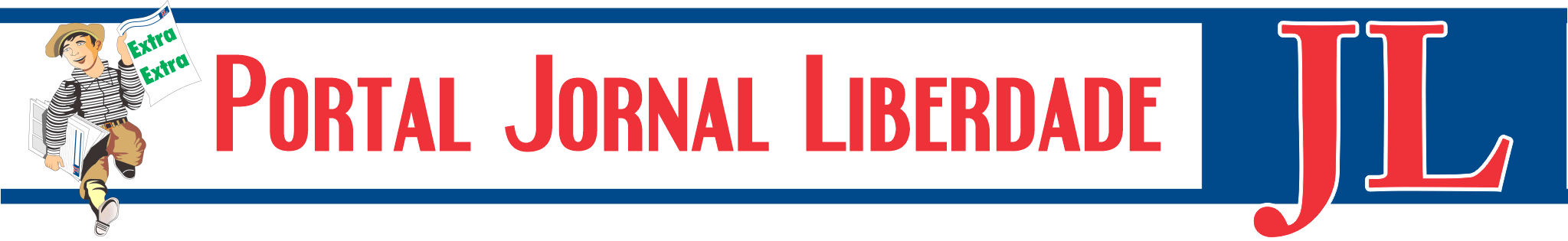Programa Nacional do Livro Didático
Educação: pelo bem ou pelo mal, o assunto que nunca sai da minuta!
Por Cleverson Israel 17 min de leitura
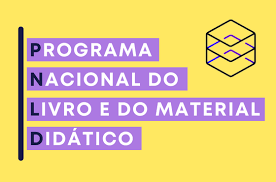
Com a Revolução Industrial floresceram várias disciplinas que, hoje, estão firmemente estabelecidas nos centros de ensino oficiais, em que são transmitidas às gerações mais novas. Ainda bebendo da mentalidade aristotélica e cartesiana, demos a cada disciplina uma zona epistemológica em específico. A realidade foi fatiada em aspectos, cada um deles regido por uma especialidade de saber. Num primeiro momento, esta organização, gnosiológica e didática, surtiu abundantes e bons efeitos. Com o passar do tempo, entretanto, o isolacionismo foi se tornando uma barreira a uma compreensão mais ampla da realidade. A incomunicabilidade entre as áreas de saber foram erigindo muralhas que reforçavam a fragmentação. Em virtude disso, no campo da filosofia, especialmente da filosofia da ciência, foi sendo forjada uma crítica ao modelo vigente. A ideia seria reforçar habilidades e capacidades, para além da memorização de conceitos. Ao invés de se ter várias disciplinas, elas seriam agrupadas por áreas de saber, como linguagens, matemática e raciocínio lógico, ciências humanas e sociais, ciências da natureza, etc. Platão dizia: “quem consegue ver o todo é filósofo, quem não consegue, não no é”. Então houve todo um trabalho de teorização, conscientização e mobilização. Até que a reflexão filosófica chegasse ao conhecimento dos especialistas e dos políticos empoderados que definem os rumos da educação. No Brasil, não faz muito tempo, o Ensino Médio foi reformulado. Eu mesmo fiz uma breve experiência como professor aquando da superveniência destas mudanças. Percebi que a metodologia por grandes áreas de saber colidia com o fato de que você não estabelecerá conexões entre espaços conceituais desconhecidos. Se você constrói uma ponte entre A e B, mas o estudante não sabe nem o que é A e nem o que é B, você está unindo nada a coisa alguma. Todavia, para além do aspecto teórico, o que vimos neste período foram as gráficas funcionando a todo vapor. Toneladas de toneladas de livros foram impressos e pagos pela União. Os livros para os alunos, para os professores, e os livros puramente didáticos, explicando como o novo modelo funcionaria na prática. Uma fortuna foi gasta em recursos editoriais. Fica a pergunta: os livros vieram à existência para viabilizar um modelo novo de educação, ou criou-se um pretexto teórico que legitimasse esse investimento? Se um filósofo concebe uma teoria pedagógica com a expectativa de ser premiado por uma empresa gráfica, isso invalida sua argumentação, por mais sóbria, fria e racionalista que ela possa ser? É uma boa pergunta, pois ao mesmo tempo em que ele pode casar um interesse pessoal ao que teoriza, não está, exatamente, fazendo o papel de um órgão julgador no fluxo de um procedimento. Sócrates criticava os sofistas por isso: eles faziam da arte de aprender uma fonte de renda. O verdadeiro filósofo, o amante da verdade, aprende e ensina desinteressadamente. Noutra guinada, vemos a unidade federativa mais populosa da nação assistir a uma proposta inversa a essa: banir o livro didático. Em nome do meio ambiente, da economicidade, em nome disso e daquilo. Todos os livros seriam digitais. A coincidência? O Secretário da Educação está lincado a uma empresa cujo faturamento reside na comercialização de notebooks e tablets. O discurso aberto e oficial? É simples: nós estamos na era da informação, da inteligência artificial, não podemos perder o bonde da história, precisamos estar alinhados com as tendências de ponta. O que aprendemos na filosofia é a relatividade de todo ponto de vista. O que, de fato, deveria incomodar a todo filósofo, é a ingerência da realidade concreta na teoria. Não estou falando de uma ingerência qualquer, até porque uma blindagem absoluta é impossível, estou falando de livrar da coima, do interesse econômico e mesquinho, uma reflexão que não deveria sojigar-se a nenhum pressuposto que diferisse da excelência da formação do ser humano. As outras áreas de atividade humana devem curvar-se ao interesse da educação. A educação não pode ser instrumentalizada para enriquecer empresários que produzem e vendem acessórios usáveis no processo de estudo. Se a tarefa de todo filósofo é encontrar a verdade, ele deve estar isento de qualquer espécie de concessão que malfira a pureza dos conceitos. O campo pensamental do filósofo é o abstrato, o cristalinamente categorial. Inobstante todas estas ressalvas, fica a pergunta: quando um filósofo patrocina uma causa, no plano teórico, tal qual advogado, o simples fato de desejar, de antemão, o resultado da sua argumentação, teria o condão de anular todo seu trabalho discursivo? A argumentação não mereceria apreciação acompanhada por juízo de ponderação?