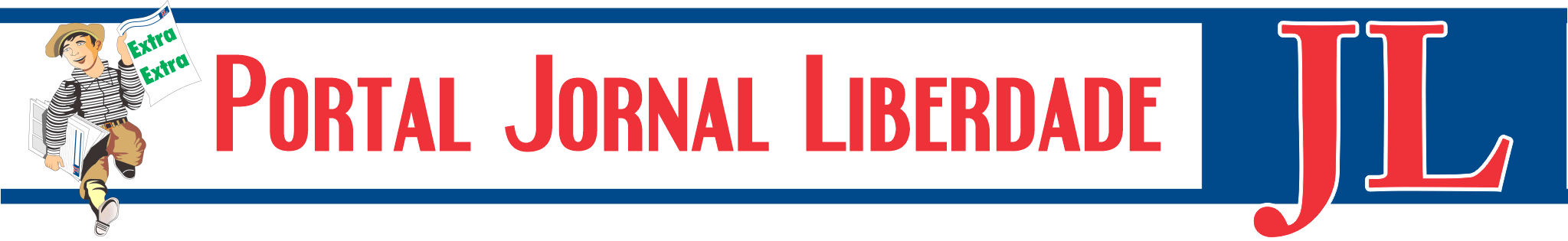REGULAMENTAÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS NO BRASIL: LIMITES PARA A DESTRUIÇÃO DA POLÍTICA
Coluna
Por Jornal Liberdade 56 min de leitura
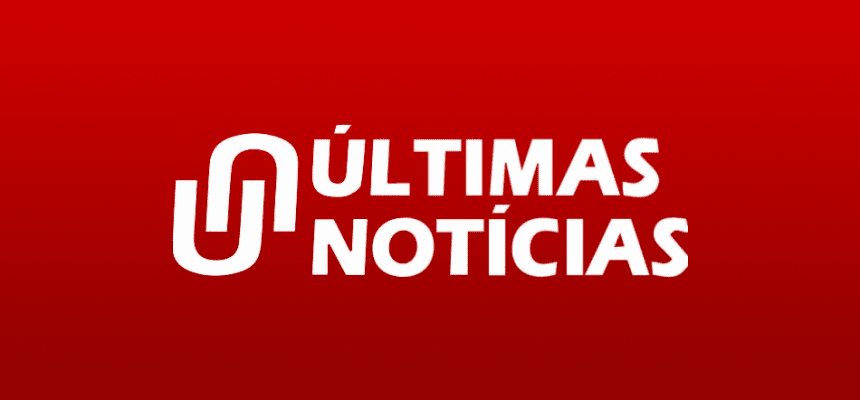
Sandro Luiz Bazzanella
Professor de Filosofia
Sandra Eloisa Pisa Bazzanella
Estudante de Filosofia
Refletir e debater a questão da regulamentação das redes sociais e seu impacto na vida de indivíduos e na dinâmica das relações sociais é de significativa importância no contexto das sociedades contemporâneas, que convivem com as benesses e, sobretudo com as contradições de um mundo compartilhado entre os diferentes povos e suas distintas culturas, costumes, tradições. Povos que compartilham bens culturais, produtos, informações, avanços científicos e tecnológicos. Mas que também compartilham riscos e ameaças à existência em comum sob a égide de fenômenos naturais adversos vinculados à emergência climática e ao alastramento de movimentos políticos de ultradireita que flertam com formas de violência de matriz fascista, ou na perspectiva do historiador Enzo Traverso: “pós-fascista”.
O debate em torno da regulamentação da internet é pauta mundial. Trata-se de situar limites às empresas globais, as chamadas Big Techs, plataformas detentoras de, redes sociais e aplicativos, utilizadas por bilhões de indivíduos usuários nos mais diversos países. Anunciado desta forma pode parecer a alguns leitores não afeitos à urgência deste debate que se trata de uma questão menor. Para outros, influenciados pela catilinária neoliberal de redução do Estado à condição de mantenedor da ordem social e da remuneração do capital especulativo, o debate proposto pode se apresentar como uma proposta que demanda excessiva interferência do Estado na inciativa privada, na economia. Afirme-se, no entanto, que não se trata de nenhuma das duas situações, ou outras assemelhadas, se trata de segurança social, de soberania nacional.
É de conhecimento público que as Big Techs promovem intensa “mineração de dados” de usuários de suas plataformas, redes sociais e aplicativos. A posse dessas informações personalizadas, submetidas a tratamentos estatísticos que categorizam o conjunto dos usuários em suas faixas etárias, em suas rendas, preferências de consumo, culturais, políticas, entre outras permitem a essas empresas promover e potencializar determinadas formas de vida, de relações humanas, visões e posicionamentos de mundo que estejam alinhadas à interesses políticos e econômicos de grupos específicos. Exemplo desta condição é a promoção da destruição do debate político e, portanto, da própria política manifestada nas redes sociais. Nestes ambientes virtuais os indivíduos posicionam mais variados tipos de discurso, muitos deles perpassados pela intolerância, mentira e ódio em relação a quem quer que seja identificado como seu “oponente”, ou a em relação a outras visões sociais e políticas.
A questão se intensifica quando se observa que a internet – navegadores, redes sociais e aplicativos – opera diuturnamente a partir da programação de algoritmos que automaticamente direcionam mensagens e informações para grupos de usuários identificados em suas afinidades, políticas, sociais, culturais, entre outras variáveis. O direcionamento de mensagens, de informações, promove uma visão fragmentada, parcializada das relações humanas, senão de mundo, tornando cada vez mais complexo o exercício de adequada compressão de determinado fenômeno social ou político. Um dos resultados sociais desta condição é proliferação de formas de violência, entre elas: o flagrante desrespeito aos direitos humanos e sociais, na forma do xingamento virtual, do cancelamento, do preconceito, da exploração humana, sobretudo de menores, da misoginia, da intolerância, da apologia a práticas neofascistas. Diante deste cenário urge o debate sobre a regulamentação da internet.
O caso de pensar a internet, ou as mídias sociais, como território por excelência de liberdade da interferência estatal já não pode ser sustentado. Com ele, fraqueja também o próprio discurso que visa retirar do Estado a responsabilidade e a possibilidade de justiça social por meio de políticas públicas. Se o Estado devesse servir apenas à garantia dos contratos realizados no âmbito das trocas num mercado livre, então não haveria motivo para que empresas privadas realizassem seu trabalho para além da esfera privada. Noutras palavras, as barreiras antes defendidas entre Estado e iniciativa privada, se ainda não haviam sido contestadas com a existência de bancadas da bala, da bíblia e do boi – representantes dos interesses privados – é contestada agora com a divulgação do 2° Seminário de Comunicação do PL. O evento, político-partidário, voltado ao fortalecimento das estratégias comunicativas da direita, conta com o suporte técnico do Google e da Meta. É nesse sentido que o debate sobre regulação das mídias sociais aqui nessas terras passa, inclusive, pela necessidade de afirmação da soberania nacional e Estatal diante do interesse privado em relação a assuntos de ordem pública.
No Brasil, o Marco Civil da Internet (MCI), promulgado em 2014, pode ser considerado o primeiro movimento em direção à promoção de ambientes virtuais cujo potencial violatório de direitos fundamentais passava a compor a pauta do dia em relação à segurança virtual. A partir de 2020, com a proposta do Projeto de Lei nº 2.630/2020, o intitulado PL das Fake News, a regulação das mídias adentrou a dimensão político-partidária, e agora é reduzida, como tantos outros debates, a uma disputa entre espectros políticos. Ou melhor, determinados grupos políticos de ultradireita e aliados que se beneficiam da mentira e da destruição do debate político acusam as iniciativas sociais e governamentais de regulação da internet de cerceamento da liberdade de expressão. Para estes grupos sociais e políticos liberdade de expressão significa promover formas de violência discursiva e política – distantes do debate político necessário à democracia – contra todos aqueles grupos e indivíduos que não se coadunam a suas opiniões e visões de mundo.
Sob tais pressupostos, e no âmbito do debate sobre o que fazer com o espaço virtual (Internet, redes sociais, aplicativos…) povoado pelas mais diversas interpretações de mundo, talvez alguns comentários possam ser feitos. A condição humana é marcada pela possibilidade do uso, ou do desenvolvimento da linguagem. Para o filósofo italiano Giorgio Agamben, o humano é esse animal que em algum momento da aventura da vida neste planeta foi capturado pelo dispositivo da linguagem e inserido na polis. Assim, como os animais, também o humano compartilha uma voz, que se expressa por meio de manifestações sonoras que identificam cada indivíduo animal à espécie a qual pertence bem como expressa manifestações comportamentais individuais, ou relativos à espécie, diante dos estímulos do meio externo que incidem sobre o corpo, sobre os órgãos sensoriais, bem como sobre a psique, reverberando em expressões de fome, de dor, de medo, ou de satisfação, de tranquilidade.
Assim, a voz que incluiu o animal na polis, constituindo-o como um ser humano, o exclui do aberto, da animalidade, induz a ação intencional, promovendo por meio de nomes, palavras e conceitos uma linguagem complexa que articula ideias, discursos socialmente compartilhados; ensejando a ação comunitária, bem como a atribuição de sentido e finalidade aos acontecimentos vitais inerentes ao mundo humano. A voz humana constitui-se assim em linguagem articulada e complexa. Sob tais pressupostos, a linguagem é um dos mais antigos dispositivos, que ao capturar o animal o exclui de sua animalidade, do aberto, incluindo o humano na polis, na Cidade-comunidade.
A linguagem, desse modo, é o que permite conferir sentido à existência, à experiência, e transmiti-la aos demais indivíduos também dotados da mesma capacidade: a de articular o mundo experienciado em discursos inteligíveis. Daí a importância da elaboração de um discurso sobre o mundo e sobre a experiência: é o discurso que transmite aos demais indivíduos humanos uma interpretação de mundo, uma possibilidade de atribuir significado às mais diversas situações. Um fato, nesse sentido, deixa de ser apenas um fato quando se articula um discurso, composto por interpretações de mundo, em seu entorno e que visa conferir sentido a ele. Daí também porque a experiência individual – a trajetória histórica de um indivíduo, seus traços psíquicos, ressentimentos, preconceitos, medos, etc. – são fatores determinantes na conformação de discursos sobre o mundo.
É também nesse sentido que a linguagem passa a ser um dispositivo, nos termos agambenianos: na medida em que passa a orientar a vida dos indivíduos, suas opiniões, condutas (AGAMBEN, 2009, p. 41) , isto é, modos de se posicionar diante do mundo. Isso porque, oferecendo interpretações de mundo convenientes às experiências ainda não traduzidas em discurso, a linguagem oferece a possibilidade de tradução, do âmbito da experiência ainda não atribuída de significado ao âmbito da experiência comunicável e, portanto, compartilhável. É a partir deste potencial da linguagem que se compreende também os riscos inerentes à significação humana do mundo.
Nesta perspectiva, não nos parece equivocado apontar, a partir da experiência compartilhada entre nós, usuários de mídias sociais, que as sociedades contemporâneas, virtuais e espetacularizadas, se apresentam como espaço por excelência de manifestação das mais variadas formas de violência alicerçadas no dispositivo da linguagem. Ao disseminar dispositivos de comunicação, de acesso às informações advindas de fontes diversas, de indivíduos produtores de conteúdos e, grupos de interesse, a sociedade do espetáculo sugere aos indivíduos consumidores que se encontram inseridos em sociedades plenamente democráticas – nas quais “democracia” passa a ser sinônimo de um tipo de permissibilidade total a todo tipo de discurso – que tudo (leia-se: sobretudo discursos opressivos e violadores de direitos fundamentais) pode e deve ser dito de qualquer forma e a todo instante. Tudo deve ser transparente, potencializado, ou cancelado instantaneamente.
Neste contexto, o dispositivo da linguagem é levado a sua máxima operacionalização promovendo diuturnamente o aligeirado consumo de notícias, imagens e informações. As sociedades individualizadas são cada vez mais conformadas por indivíduos consumidores desprovidos de tempo para fazer adequada experiência com a potência do pensamento necessário e fundamental para o adequado e criterioso posicionamento público. Sob tais pressupostos, as sociedades democrático-espetaculares promovem a verborragia discursiva que descamba na proliferação da mentira, na desestruturação do espaço público e, por decorrência lógica, na desestruturação do mundo socialmente compartilhado.
Se o uso virtual do dispositivo da linguagem se apresenta como potencial promovedor da violência contra a dignidade humana – expressa sobretudo na afirmação de direitos fundamentais – na medida em que legitima a violência dos Estados contra os súditos ou dos cidadãos contra outros cidadãos, é também na linguagem que reside o potencial transformador das sociedades de violência em que estamos inseridos. Isso significa que se é verdade que o totalitarismo e as mais diversas formas de violência se manifestam em determinados contextos sociais e políticos no seio de experiências democráticas em crise, como parece ser o caso das sociedades contemporâneas, então todas as vezes em que demandas estruturais, sejam de ordem econômica ou social, entram em colapso em uma determinada conformação social, como manifestos na experiência da democracia ateniense e, sobretudo com as experiências das democracias liberais das primeiras décadas do século XX, no interior das quais vicejaram as pavorosas experiências dos Estados totalitários fascistas e nazistas, é imprescindível considerar o argumento que Agamben nos apresenta na obra “Quando a casa queima” (2021, p. 16): “Se lembramos da linguagem, se não nos esquecemos que podemos falar, então somos mais livres, não somos obrigados às coisas e às regras. A linguagem não é um instrumento, é nosso rosto, o aberto no qual estamos”.
Assim, trata-se de considerar, no caso brasileiro, o que fazer, portanto, com a possibilidade da linguagem em ambiente virtual. Trata-se de perguntar se é possível e desejável à sociedade brasileira legitimar um uso da linguagem que serve à promoção da violência. Noutras palavras, trata-se de perguntar: A que serve a linguagem? Estamos dispostos a abrir mão de um uso criterioso da linguagem necessário a promoção respeitosa do debate público? Desconsiderar tais questionamentos que incidem sobre o uso da linguagem na promoção das mais diversas formas de violência no ambiente virtual é apostar na barbárie, na destruição de mundo compartilhado.
O debate sobre regulação das mídias sociais se apresenta, nesse sentido, enquanto fomentador destes questionamentos. Se se compreende que a linguagem é também um instrumento de poder, de exercício do controle e da promoção de visões de mundo, então é possível admitir que também a linguagem deve estar comprometida com a verossimilhança entre a experiência e a tradução da experiência para o mundo do discurso. Se, por outro lado, é possível aceitar que a linguagem disfarce de real um mundo inexistente (o caso das fake news), então é necessário aceitar a total suspensão da linguagem como potencial informador do mundo e articulador de sentidos à experiência. Se, no âmbito do real, admite-se que a linguagem pode ser instrumento de difusão de irrealidades, então se ultrapassa a barreira entre o fantasioso e o real, admite-se que jacarés surjam de vacinas, que a pedra filosofal tenha o mesmo estatuto de realidade que o imposto de renda.
O compromisso com a linguagem, com a interpretação dos fatos – e não com a mera criação de fatos – é imperioso se ainda há demanda pelo debate público. É nesse sentido que o debate sobre a regulação de mídias sociais não é antagônico às reivindicações por liberdade de expressão. A menos que “liberdade de expressão” agora signifique difusão de fake news e discursos de ódio. E para finalizar este périplo argumentativo é imprescindível considerar que não se trata simplesmente de ser a favor ou contra a técnica que se expressa nas tecnologias promovidas pela internet. Não se trata de advogar por uma realidade extra-internet inexistente. Também não se trata ingenuamente de apostar num correto uso da técnica e das tecnologias. A técnica é apenas um modo de fazer, de produzir, de desvelar formas de produzir coisas, objetos, informações que incidem sobre o mundo. Assim, a técnica sabe o que fazer e, quando fazer, mas não sabe o “porque” fazer ou não fazer algo. Novamente, a significação da técnica e a atribuição de finalidade a ela depende da atribuição de sentido própria dos seres humanos, a técnica, expressa aqui pelas mídias sociais, não é soberana diante das demandas humanas. A decisão sobre o “porque” é exclusivamente pertencente ao ser humano, fim em si mesmo, enquanto a técnica é mero meio. Inverter, subverter esta ordem é produzir violência e intensificar a barbárie em curso que pretende transformar a todos em meros meios.