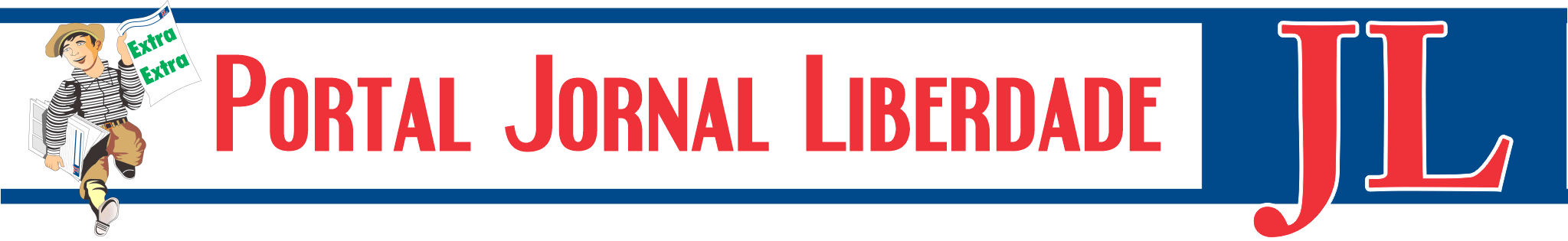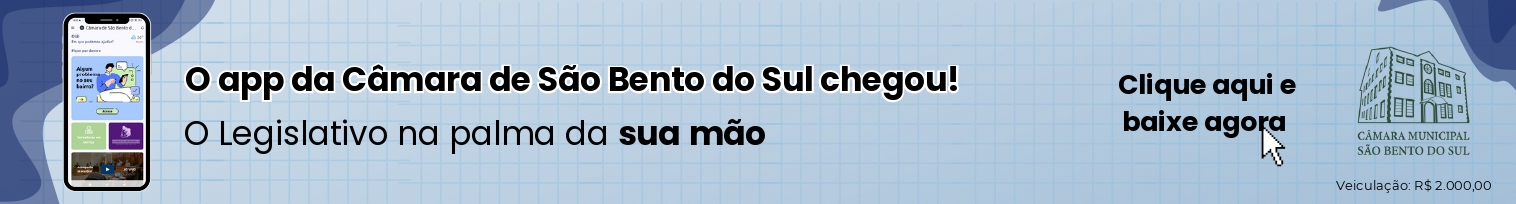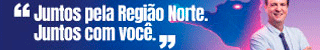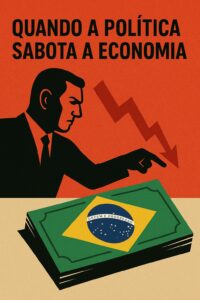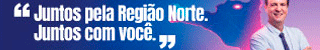Por Jorge Amaro Bastos Alves
O Brasil é um país de contrastes profundos. Possuímos uma das maiores áreas agricultáveis do planeta, uma base industrial expressiva, reservas naturais estratégicas e um mercado interno robusto. Ainda assim, nossa economia patina. E o motivo é cada vez mais evidente: a política ruim.
A má política sabota a economia de forma persistente. Governos instáveis, instituições frágeis, reformas inacabadas e populismo de curto prazo travam o desenvolvimento. As decisões são tomadas pensando na próxima eleição, e não na próxima geração. Faltam previsibilidade, responsabilidade fiscal e compromisso com o longo prazo. O resultado é uma economia desorganizada, insegura e pouco produtiva.
Economistas consagrados há décadas alertam para esse fenômeno. O prêmio Nobel de 1993, Douglass North argumentou que o crescimento depende da qualidade das instituições — ou seja, das regras do jogo. Quando essas regras são voláteis, mal desenhadas ou capturadas por interesses de curto prazo, os agentes econômicos se retraem. Segundo North, economias fracassam não pela ausência de recursos, mas pela presença de instituições ineficientes.
O Brasil se encaixa bem nesse diagnóstico. Nossa tradição é de intervencionismo, dirigismo e instabilidade institucional. Oscilamos entre tentativas de desenvolvimento estatal e populismo fiscal, frequentemente abandonando reformas estruturais no meio do caminho. O Estado interfere, regula, subsidia, salva empresas, impõe tarifas e muda regras — tudo em nome do “interesse nacional”, mas frequentemente guiado por interesses eleitorais ou corporativos.
Enquanto isso, países como Coreia do Sul e Singapura mostraram que é possível romper ciclos de atraso por meio de política econômica competente e instituições coerentes. A Coreia do Sul apostou na industrialização voltada à exportação, com metas claras, investimento em educação e inserção estratégica no comércio global. O ingresso de divisas permitiu o salto em infraestrutura e inovação, transformando o país em um dos centros industriais e tecnológicos do mundo.
Singapura, por sua vez, é um exemplo consumado, de como mesmo sob autoritarismo político é possível implementar uma política econômica eficiente. O governo de Lee Kuan Yew, embora longe dos padrões democráticos ocidentais, instituiu um Estado técnico, disciplinado, meritocrático e focado em resultados. Estimulou o capital estrangeiro, garantiu segurança jurídica, manteve carga tributária baixa e investiu fortemente em educação e moradia. Criou-se ali um capitalismo competitivo, ainda que sob centralização política — um contraste gritante com o Brasil, onde temos o pior dos dois mundos: baixa eficiência estatal e baixo dinamismo econômico.
Internamente, tivemos poucos momentos de orientação liberal na política econômica. O mais simbólico talvez tenha sido o Plano Real, que estabilizou a moeda, controlou a inflação e criou as bases para o crescimento dos anos 2000. Outro exemplo mais recente foi a atuação de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia (2019–2022). Mesmo diante da pandemia e de um ambiente político turbulento, Guedes conseguiu conduzir pautas relevantes como a reforma da Previdência, avanços em digitalização do Estado, ampliação das concessões à iniciativa privada e a privatização da Eletrobras, além de defender a responsabilidade fiscal como pilar essencial da política econômica.
O contraste entre essas tentativas e a tradição dirigista brasileira é profundo. Por décadas, o país apostou em soluções mágicas: planos de crescimento acelerado, programas salvacionistas, distribuição de crédito público sem critério, protecionismo desatualizado e intervenções setoriais desordenadas. O resultado foi inflação crônica, endividamento, desindustrialização e descrédito internacional. O desastre econômico do governo Dilma Rousseff, marcado por controles de preços, pedaladas fiscais e populismo tarifário, é talvez o exemplo mais contundente dos efeitos negativos do intervencionismo mal calibrado.
Os economistas Daron Acemoglu e James Robinson, em “Por que as Nações Fracassam”, explicam que países fracassam quando suas instituições políticas são “extrativas” — organizadas para favorecer elites e grupos organizados, em detrimento do conjunto da sociedade. O Brasil, com sua política cativa de interesses corporativos e sua incapacidade crônica de entregar reformas, é um exemplo didático disso.
Se quisermos romper esse ciclo, precisamos abandonar de vez o dirigismo econômico e o intervencionismo descoordenado, que geram ineficiência, insegurança jurídica e distorcem a alocação de recursos. A experiência internacional é clara: desenvolvimento sustentável exige instituições estáveis, regras claras, responsabilidade fiscal e políticas de longo prazo. Não é uma questão de ideologia, mas de coerência.
O Brasil não precisa reinventar a roda. Precisa fazer o básico: garantir segurança jurídica, simplificar tributos, qualificar o gasto público e fortalecer a educação. E, acima de tudo, precisa de uma política que pense no futuro — não apenas na próxima eleição.
Enquanto a política brasileira continuar sabotando a economia, seguiremos desperdiçando nosso imenso potencial.
*Economista e professor universitário.